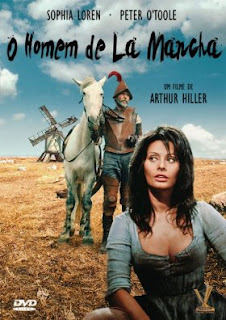Qualidade de “Lioness: Hidden Treasures” supera oportunismo dos produtores do disco póstumo da cantora britânica, lançado na segunda-feira, 5
Um disco póstumo lançado menos de seis meses após a prematura morte de Amy Winehouse e bem no período natalino? Dá para desconfiar da jogada pra lá de comercial. É realmente difícil não conceber o lançamento de “Lioness: Hidden Treasures” como um caça-níquel oportunista que aproveita a conveniência do Natal para pegar o boom das vendas de final de ano.
A desculpa dos produtores Salaam Remi e Mark Ronsons, encarregados de recompilar o material desse novo álbum, é que Amy deixou “uma coleção de temas que mereciam ser escutados” e que era um “verdadeiro legado” da cantora. O disco reúne gravações que Amy realizou antes, durante e após os lançamentos de seus dois únicos discos, “Frank” e “Back to Black”.
Independentemente da suposta ganância dos que lançaram o álbum, não dá para menosprezar a capacidade dos produtores envolvidos nesse projeto, simplesmente pelo fato dele ser muito bom. Embora tenha sido lançado em uma época duvidosa, é possível perceber que as intenções ali foram mais que financeiras. Também é compreensível essa “urgência”, já que não se tinha um novo álbum de Amy Winehouse há anos. E mesmo não trazendo Amy em seu auge, a coletânea tem momentos interessantes e contribui ao legado da inglesa, consolidado e que deve ser relembrado sempre.
Não que “Lioness: Hidden Treasures” seja um disco de inéditas. A maioria das faixas já é conhecida do público em versões demo ou gravações avulsas. Bom mesmo é saber que quando gravou as canções — grande parte delas — Amy ainda não tinha prejudicado sua voz com o excesso de bebida e drogas e por isso mesmo o disco destaca a segurança vocal da artista.
É comovente a serenidade que Amy Winehouse emprega, por exemplo, aos versos da versão reggae que faz de “Our Day Will Come”, clássico de Ruby and The Romantics que também fez sucesso na voz melodiosa de Karen Carpenter, do duo Carpenters. O registro que se ouve em “Lioness: Hidden Treasures” é de 2002 e nele Amy disserta com segurança sobre como — ironicamente — tempos melhores estariam por vir.
Outra canção que também fez sucesso na voz dos Carpenters é “A Song For You”, música de Leon Russell gravada pela primeira vez por Donny Hathaway. A voz está completamente diferente da música que abre o disco e isso se justifica pelo fato de Amy tê-la gravado quando estava sob o efeito das drogas em 2009, em um take, com Amy ao violão. Mas a voz ainda soa poderosa.
A dedicação e entrega da artista a homens de caráter duvidoso, presença constante em suas canções está em “Between The Cheats”. Sedutora, Amy canta que o rapaz, depois de muito tempo, “ainda a faz enrubescer”, e o coro masculino no refrão reforça a sensação de que ela parece voar em devaneios apaixonados. Amy registrou a canção em maio de 2008, para seu terceiro álbum, jamais lançado.
Para os brasileiros “Lioness: Hidden Treasures” traz um presente especial: ‘Garota de Ipanema”, maior sucesso comercial da dupla de compositores Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Referência inevitável de música brasileira para artistas estrangeiros, foi a primeira que Amy cantou aos 18 anos quando foi a Miami pela primeira vez para gravar com o produtor Salaam Remi em 2002. A cantora britânica abusa do scat singing — técnica de canto que consiste em se cantar vocalizando tanto sem palavras, quanto com palavras sem sentido e sílabas — no melhor estilo “badabauê”—, e o acompanhamento é sutil, de bateria e violão. Ao fundo, um arranjo de violinos. Mas quem desejava ver Amy cantando em português vai se desapontar. Ela interpreta a versão em inglês, “The Girl From Ipanema”, de Norman Gimbel.
“Will You Still Love Me Tomorrow” e “Valerie” representam as releituras mais conhecidas. Coverizando Carole King, Amy mostra que a letra de “Will You Still Love Me Tomorrow”, embora não seja sua, sempre ganha vida de forma autêntica em sua voz. A música foi gravada para a trilha sonora de “Bridget Jones 2 — A Idade da Razão”. A dúvida sobre o amor que lhe é dispensado traz uma certa ingenuidade: “Isso é um tesouro duradouro/Ou apenas um momento de prazer?/Posso acreditar na mágica de seus suspiros?/Você ainda vai me amar amanhã?”, cantou em 2004.
Um dos grandes serviços de Amy Winehouse à música foi alavancar as alturas “Valerie”, canção do grupo The Zuttons, de Liverpool. No CD ela é apresentada em uma versão mais lenta, registrada em dezembro de 2006. Amy gravou essa música de várias formas, mas é impossível achar um registro dessa canção, na voz de Winehouse, que seja apenas razoável. Amy tornou o cover mais interessante do que o original.
“Tears Dry” e “Wake Up Alone” pertencem à categoria de faixas demos. A primeira, uma versão menos “poderosa” de “Tears Dry On Their Own”, surge muito mais lenta, mas não menos honesta que a canção incluída depois no CD “Back to Black”. A gravação é de 2005. Já a segunda teve sua gravação como demo da primeira canção registrada especialmente para “Back to Black”, em março de 2006. Ela soa mais limpa e básica e funciona muito bem, ao transmitir a real angústia de sua criadora.
“Like Smoke”, um dos duetos do disco é a mais fraca da coletânea. Gravada em colaboração com o rapper Nas, em maio de 2008, parece narrar um embate fadado ao fracasso. O outro dueto, “Body and Soul”, que Amy gravou com o cantor americano Tony Bennett para o álbum “Duets II”, lançado em setembro, foi a última gravação oficial da cantora, feita em março de 2011. Um grande encontro de artistas.
“Best friends” é a música com a qual Amy abria os shows do álbum “Frank”, registro de fevereiro de 2003. O ritmo alegre esconde uma mensagem oposta: o descaso com o parceiro não é disfarçado e Amy desdenha, debocha, dizendo que no fim, eles “ainda são melhores amigos, certo?”.
Um dos grandes méritos de Amy Winehouse era conseguir transmitir o que sentia em absolutamente tudo o que cantava, estivesse em seu auge ou nos seus dias menos esperançosos. Esse álbum é a confirmação disso e, portanto, a confirmação de seu talento.